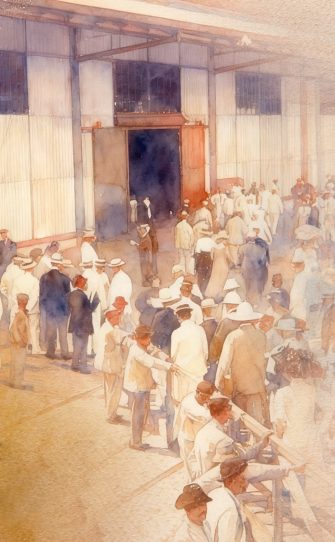A evolução do Porto de Belém ao longo do século XVII
Preocupada com sucessos obtidos pela colonização francesa no nordeste do Brasil (a chamada França Equinocial), a Coroa portuguesa organizou uma expedição para conquistar o Maranhão. Com ordens expressas do Rei Filipe II, os portugueses atacaram a fortaleza francesa de São Luís. A 3 de novembro de 1615, após quatro dias. de cerco, fizeram a sua guarnição render-se incondicionalmente. Após a vitória, os portugueses começaram a organizar novos núcleos de povoamento no norte do Brasil com o objetivo de impedir outras incursões estrangeiras.
A Francisco Caldeira de Castelo Branco, antigo Capitão-Mor da Capitania do Rio Grande do Norte (1612-1614) e um dos integrantes da vitoriosa expedição ao Maranhão, foi ordenado que viajasse ao que seria o Pará, a fim de garantir a sua posse para Portugal. Partindo de São Luís a 25 de dezembro de 1615, com três embarcações e uma guarnição de 150 soldados, a expedição chegou à baía do Guajará a 12 de janeiro de 1616. O desembarque deu-se numa ponta de terra elevada, conhecida pelos índios Tupinambá como "Mairi", um fragmento de terraço que domina a estratégica confluência dos rios Pará e Guamá, "inacessível pela parte do mar e defendida pela parte da terra por extenso igarapé que, nascendo no alagadiço do Piri, ia desembocar onde hoje é a doca do Ver-o-Peso". Ali, Francisco Caldeira de Castelo Branco mandou construir uma paliçada de madeira na forma de um fortim, batizado de Presépio de Belém, possivelmente em homenagem à data da partida da expedição de São Luís, dia de Natal. No seu interior desenvolveu-se o primeiro núcleo colonial português na Amazônia, batizado pelo Capitão-Mor de Feliz Lusitânia.
O primeiro porto da nova colónia portuguesa, surgido paralelamente à chegada da expedição comandada pelo fundador de Belém, mostrou-se na forma de um modesto ancoradouro situado à margem esquerda da foz do igarapé do Piri, aos pés do terraço onde estava instalado o forte. Logo a Feliz Lusitânia começou a se expandir para fora das muralhas do Presépio, com o aparecimento das primeiras ruas. Em 1627, foi aberto um caminho que ligava a. margem direita do Piri à igreja de Santo Antônio, conhecido como Rua dos Mercadores (atual Conselheiro João Alfredo), que se constitui no eixo central do desenvolvimento urbano de Belém ao longo do século XVII. Terminando numa praça onde, em 1640, os Mercedários construíram a sua igreja, este caminho atraiu uma considerável parcela dos moradores do local, inclusive dos seus primeiros comerciantes, motivando a transferência do desembarcadouro principal da margem esquerda para a margem direita de Piri, localizado entre a sua foz e o início da rua dos Mercadores. Durante todo o século XVII, este ancoradouro serviu como porto da cidade, com os barcos que chegavam da Europa fundeando na baía do Guajará, em frente ou ao norte da foz do Piri, enquanto as embarcações fluviais procuravam abrigo na própria embocadura, no que permaneceu sendo por muito tempo o verdadeiro porto de Belém, representado por uma rampa de pedras.
Nessa época, os habitantes da Feliz Lusitânia começaram a ir atrás do ouro que imaginavam estar em algum lugar da grande floresta tropical, pois inúmeras lendas, que alimentaram durante séculos a imaginação europeia, retratavam a Amazônia como um paraíso perdido, abundante de riquezas, ou mesmo como o Jardim do Éden. Mas esta ânsia que se criou em explorar a Amazônia era motivada menos pela busca do Paraíso e mais pelas riquezas proporcionadas por um novo modelo económico em voga na Europa, depois da descoberta do caminho marítimo para as Índias, em 1498: o mercantilismo, com seus lucros rápidos e extraordinários, proporcionados pela riqueza encontrada de forma abundante, ou seja, os recursos naturais da região, fossem eles metais preciosos ou produtos do extrativismo. Apesar das buscas se mostrarem infrutíferas no tocante aos metais, as explorações revelaram aos portugueses outras riquezas da mata, as chamadas drogas do sertão, que tanto poderiam ser de origem vegetal, como o cacau, o cravo, a baunilha, o anil, a canela, a salsa, como de origem animal, o pirarucu, o peixe-boi, as tartarugas, caranguejos, carne e pele de mamíferos, como a capivara e a onça, entre outros. A importância destes produtos aumentou quando os portugueses perceberam que se equiparavam às especiarias do Oriente na qualidade, mas compensavam mais no preço final, pois a viagem do Brasil para Portugal era de menor duração. Dessa forma, as drogas representam a base económica para a posse da região nesse primeiro momento.
O século XVIII
Até 1750, a política de Portugal na Amazônia não resultou de um projeto pré-concebido já que, realizada de acordo com as necessidades do momento, aceitou a existência das específicas condições da região.
Com a subida de D. José I ao trono de Portugal em 1750, e a nomeação para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros de Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, este estado de coisas começaria a mudar. O poderoso ministro, em pouco tempo o verdadeiro mandatário português, impregnado pelos ideais iluministas e absolutistas, combateria violentamente os problemas económicos que surgiram diante do novo governo: o Estado português precisava acumular capitais e, em função disso, Pombal pretendeu implantar na Amazônia uma economia de cunho capitalista, mas grande parte da economia amazônica estava nas mãos das ordens religiosas.
Dessa forma, o Marquês de Pombal dispensou uma atenção especial à região. Nomeou para governar o Grão-Pará um homem da sua confiança, o seu próprio irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a quem competiria aplicar a nova política para a Amazônia, que consistia basicamente em fazer incidir o poder da Coroa portuguesa diretamente sobre os territórios e a população da região, excluindo a intermediação dos missionários. Foi então criada a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, que incentivou a exportação da produção da Capitania, assistindo-se, assim, a uma cada vez maior coleta de drogas e ao incentivo à agricultura, - mais notadamente a produção de arroz, café e cacau, - e à pecuária do Marajó. Essa política procurou promover o maior aproveitamento da região, explorando de maneira mais racional o que ela produzia. Buscava-se, assim, consolidar a dominação portuguesa na Amazônia, tendo como base a cidade de Belém.
A partir da segunda metade do século XVIII, a constante penetração no rio Amazonas, o desbravamento dos seus afluentes, a exploração das suas incontáveis riquezas e a ideia precisa da grande extensão territorial, que a Coroa portuguesa mantinha sob o seu controle no norte do Brasil, levariam governantes e os seus governados a admitirem que havia chegado uma época de grande prosperidade para a Capitania do Grão-Pará.
O século XIX
Durante a primeira metade do século XIX, o movimento comercial de Belém era grande: exportava-se grandes quantidades de cacau, café, algodão, cravo, couro e madeira. Porém, por volta de 1839, a cidade reclamava a construção de um porto que atendesse as suas necessidades, pois até aquele momento só havia um pequeno cais de pedra situado na Baía de Guajará, entre o convento de Santo Antônio e a travessa das Gaivotas, hoje 1° de Março, e uma rampa conhecida popularmente pelo nome de "ponte de pedras", localizada entre a mesma travessa e o Ver-o-Peso. O problema enfrentado pela falta de um porto moderno fez florescer às margens da Baía de Guajará os trapiches de madeira que atendiam as companhias de navegação em atuação na Amazônia.
Também concorreu para a construção de um novo porto em Belém o fato de terem sido ampliadas as viagens fluviais para o interior do Estado, iniciadas em 11 de janeiro de 1853, com a primeira viagem de um vapor da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, com destino a São José do Rio Negro, hoje Manaus. Esse tipo de viagem abria perspetivas completamente novas para o comércio de Belém, já que favorecia o aparecimento de inúmeras companhias comerciais, como a Companhia Fluvial do Alto Amazonas (1866) e a Companhia Fluvial Paraense (1867). Com as viagens para o interior e o aparecimento das companhias, o movimento comercial do porto de Belém triplicou: em 1840, ancoraram 78 navios com tonelagem registada em 11.252; já em 1880, ancoraram 292 navios, cuja tonelagem alcançou 258.115.
Mas o impulso determinante para a construção de um novo porto foi dado pelas exportações de borracha, que por volta do final do século XIX, já atingiam níveis bastante elevados.
Século XX
O processo de encampação da Companhia Port of Pará culminou com o decreto-lei n.º 2.147, de 27 de abril de 1940, que criou o Serviço de Navegação na Amazónia e Administração do Porto do Pará (SNAPP), órgão que ficou encarregado da administração do porto de Belém. O SNAPP se deparou com dois grandes problemas durante o período em que administrou o porto de Belém: primeiro foram os reflexos da Segunda Guerra Mundial, que causaram queda das exportações, importações e do movimento total do porto; o segundo, foi o que António Rocha Penteado chamou de "falta de carga", que fez com que apenas uma vez, entre 1915 e 1965, o movimento do porto de Belém passasse de 1 milhão de toneladas: "somente um género de alto valor [como foi a borracha na época da Port of Pará], comerciado numa época de carência total desse mesmo género, em outras partes do mundo, é que poderia sustentar e animar tal espécie de tráfego portuário".
Além disso, o SNAPP, também não conseguiu cumprir a tarefa para a qual foi criado, principalmente pelo fato de ter herdado a crise em que se encontrava a Port of Pará. Durante a sua administração, o porto de Belém funcionou precariamente, porque as condições de acesso dos seus canais estavam reduzidas a metade por falta de recursos para se proceder a dragagens regulares; por fim, seu parque industrial obsoleto comprometia a infraestrutura técnica de manutenção e de tráfego do porto. Por esses problemas, quase insolúveis, o SNAPP foi extinto através do decreto 61.600, de 6 de setembro de 1967. No seu lugar, e utilizando-se dos capitais sociais constituídos com os seus bens, foi fundada a Companhia Docas do Pará (CDP), cuja função era "promover a administração dos portos organizados e terminais do Pará".
A nova companhia herdou do seu antecessor o que Antônio da Rocha Penteado chamou de um "porto de importação", pois nunca as "importações foram inferiores a 50% [no período 1957-1966] do total de tonelagem de carga movimentada nessa época, como esta pode ser proveniente também da pequena cabotagem (...) salta aos olhos a importância regional do porto de Belém". Além disso, a ampla área de administração direta do porto também trouxe problemas à Companhia Docas do Pará, já que vai da foz do rio Oriboca, seguindo o litoral oriental da baía do Guajará, até a ilha do Mosqueiro, perfazendo 34 quilómetros de extensão.
Por tudo isso, a Companhia Docas do Pará tinha à sua frente um desafio: o desenvolvimento de um complexo sistema portuário, "que, nas suas relações com a terra e o mar, apresenta uma série de situações, cuja abordagem se torna necessária para melhor conhecer os seus problemas".
A Companhia "Port of Pará"
A partir do relatório do engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, o Governo Federal abriu concorrência pública para a execução das obras do novo porto de Belém, vencida por João Augusto Cavallero e Frederico Bender, em 15 de novembro de 1902. Quando as obras estavam para ser iniciadas, a concessão foi declarada sem efeito, haja vista os contratantes não terem assinado o contrato no prazo estipulado. Assim, em 18 de abril de 1906, foi aberta nova concorrência, que desta vez foi vencida pelo engenheiro norte-americano Percival Farquhar.
Farquhar “was to build and organise the port from the mouth of the Oriboca River in Guamá to the tip of Mosqueiro (…), with the first section consisting of a 1,500-metre quay starting from the Ver-o-Peso Dock, equipped with the respective bollards, mooring devices, and stairways, and properly fitted with electric cranes, railway lines, and lighting.” Farquhar was also responsible for dredging the bay, constructing embankments, opening a 30-metre-wide street parallel to the quay, building warehouses, installing signalling buoys, and erecting the necessary administrative and inspection buildings. In return, he would receive a net rent equivalent to 6% of the capital invested in construction, the right to operate the first section of the works until 1973 and the second section until 1996, tax exemptions for importing construction materials, among other incentives.
To carry out the project, Farquhar organised the Port of Pará Company at the offices of Corporation Trust Co., in Portland, United States, on 7 September 1906. The Brazilian Government’s interest in the project, the guarantees offered for its feasibility, and the fact that Farquhar had obtained approval from the renowned firm S. Pearson & Sons ensured the participation of numerous investors and the capital necessary for this ambitious endeavour.
Farquhar and W. Pearson, the engineer responsible for the works, decided to begin constructing the port’s quay, placing large prefabricated concrete blocks along the bank and connecting them, while dredgers excavated the bay floor and reclaimed the land for warehouses and the grand avenue. On 2 October 1909, the first phase of the port was inaugurated: a 120-metre quay and a warehouse.
Construction continued at a rapid pace: by 1914, 1,869 metres of quay had been built; dredging moved 5,665,913 m³ of sand and mud, forming the future Castillos França boulevard embankment; 13 metal-structure warehouses, supplied by the French firm Schneider & Cie of Creusot, covering a total area of 27,700 m², were completed; 6,500 metres of railway tracks were laid; and 11 electric cranes were installed for cargo handling. The quay was illuminated by 2,200 electric lamps, and 30 buoys marked the port’s access channel.
However, from 1914 onwards, the depreciation of rubber, combined with the decrease in imports due to World War I and the subsequent contraction of foreign capital, caused the Port of Pará to enter a crisis, seeking a new agreement with the Federal Government regarding the continuation of works. Some second-section quay constructions were postponed until traffic needs demanded their completion, as were certain first-section works, such as the Customs House and the Post and Telegraph building. The crisis intensified between 1914 and 1920, when the company’s expenses increased by approximately 100%, all covered by the Federal Government, which became its main creditor. The situation reached such a point that the company’s shareholders appealed to the court in the U.S. state of Maine, where its headquarters were located, and succeeded in placing it under a commission’s intervention on 26 March 1915.
In 1921, the Brazilian government suspended payment of the company’s guarantees. The crisis persisted until 1940, when the company was obliged by decree to reimburse over 350,000 contos de réis to the Federal Government for quay fees collected above the 6% it was entitled to under the concession. “As the total received indirectly reached 354,934,381$ and the valuation of all company works and installations amounted to 307,013,984$, these were to serve as guarantees for the debt repayment.” Thus, in 1940, the Port of Pará Company came under the control of the Brazilian Federal Government.
The Port of Belém Today
The Port of Belém continues to be administered by the Companhia Docas do Pará (CDP), whose structure has changed considerably since its foundation in 1967, transforming into a holding company managing a total of ten ports and the Eastern Amazon and Tocantins-Araguaia waterways.
In 1999, CDP ports received 5,518 vessels, handling a total of 9,000,682 tonnes of cargo. At the Port of Belém, the main cargoes included timber (representing 55.87% of total cargo in 1999), black pepper, heart of palm, fish, shrimp, Brazil nuts, wheat, cement, and foodstuffs, totalling 796,477 tonnes.
Belém also hosts the Miramar Petrochemical Terminal, equipped for the loading and unloading of liquid fuels and up to 92 storage tanks, which handled 1,365,772 tonnes. The Port of Vila do Conde, in Barcarena, is the busiest port in the Amazon, handling products from the so-called Aluminium Complex, comprising ALBRÁS (aluminium) and ALUNORTE (alumina), totalling 5,809,041 tonnes in 1999. The Port of Macapá, inaugurated in 1982, experienced a major increase in cargo handling, mainly due to the creation of the Macapá and Santana Free Trade Zone. The Port of Santarém, inaugurated in 1974, specialises in agro-industrial and extractive cargoes. In addition to these five main ports, CDP manages the ports of Itaituba, Altamira, Marabá, Óbidos, and São Francisco, all river ports.
Today, CDP is committed to implementing the Port Modernisation Law, whose main goal is to reduce port operation costs and make Brazilian ports more efficient and competitive. Its activities have therefore been outsourced, a process that will also extend to the other ports under its management.